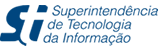Entrevista com Luiz Awazu Pereira da Silva – Deputy General Manager do BIS (Bank for International Settlements)
Data da publicação: 9 de janeiro de 2024 Categoria: Notícias
Por: Central Banking/Louis Rafael Rosenthal
Bruno Saboia de Albuquerque: Primeiramente, obrigado, Luiz, pela disponibilidade de estar aqui comigo falando sobre as mudanças climáticas e economia. Luiz é DGM (Deputy General Manager), como chamamos aqui no BIS. É o “número 2” do banco, e também quem supervisiona o departamento de risco no banco, no qual eu trabalho. Vamos iniciar conversando um pouco sobre você. Seu nome é Luiz Pereira, mas há também o Awazu. A minha curiosidade é: de onde veio o seu sobrenome? Gostaria também que falasse um pouco da sua família, da sua infância e do seu crescimento no Brasil.
Luiz Awazu Pereira da Silva: Meu nome completo é Luiz Awazu Pereira da Silva, e eu sou um típico brasileiro onde se mistura uma parte da imigração japonesa pela parte da minha mãe, de onde o vem o “Awazu”, família de imigrantes que chegaram no Brasil no comecinho do século XX.
Minha mãe se formou e encontrou meu pai na USP (Universidade de São Paulo), na faculdade de medicina. Meu pai, Luiz Hildebrando Pereira da Silva, já falecido, foi um cientista muito conhecido no Brasil — daí o “Pereira da Silva”. Ele, inclusive, trabalhou durante os primeiros anos de sua carreira no Nordeste, e ambos trabalharam lá com o Professor Samuel Pessoa, o grande parasitologista brasileiro. Meus pais, que sempre foram cientistas “engajados”, tiveram que sair do Brasil devido ao golpe militar de 1964. Foram exilados políticos na França. Por isso, tive ao longo da minha vida uma formação muito mais de escola francesa — primário, ginásio e inclusive nas chamadas grandes écoles HEC e Science-Po.
Posteriormente, fiz um doutorado em economia e um mestrado em filosofia, ambos na Sorbonne (França). Depois, me mudei para os Estados Unidos para trabalhar no Banco Mundial. Trabalhei no Japão também, para o governo japonês. Em seguida, fui nomeado secretário de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda no primeiro governo Lula, lá permanecendo por alguns anos. Depois, fui nomeado chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, também no governo Lula; e no final, depois de um outro período no Banco Mundial, onde eu trabalhei muito na África, voltei para o Brasil, para trabalhar como diretor do Banco Central do Brasil. Fui diretor da área internacional, depois diretor da área de regulação e terminei como diretor de política econômica. Por último, me mudei para cá em 2015, assumindo como Deputy General Manager (o título no Brasil equivale a vice-presidente) do Banco de Compensações Internacionais, Bank for International Settlements, o BIS.
Bruno: Você então cresceu em uma família de médicos, mas se tornou economista. Como surgiu esse interesse?
Luiz: Eu sempre tive um interesse pelas áreas de economia, filosofia, sociologia e política. A carreira que eu fiz, as escolas em que estudei, se enquadraram bem nesses tópicos.
Bruno: Portanto, você não chegou a experimentar uma educação do Brasil? A maior parte da sua educação foi na França?
Luiz: Eu fui educado no Brasil somente por um ano, onde havia uma possibilidade de retorno da minha família para o Brasil em 68 — possibilidade esta que foi interrompida pelo AI-5, devido ao qual fiquei apenas um ano em solo brasileiro. Prestei concurso, fiz um ano no Colégio de Aplicação (uma experiência pedagógica nova na época) da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Cheguei a começar no ginásio, mas minha família teve que voltar para a França depois do AI-5.
Bruno: Obrigado. Agora é possível ter um panorama melhor do seu passado. Eu também não sabia da sua origem japonesa, e é muito interessante saber que você voltou um pouco para lá.
Luiz: Bom, eu voltei para o Brasil depois de alguns anos para justamente trabalhar no governo depois do Banco Mundial, entre 2003-2004, mais ou menos, até praticamente 2015, com uma pequena interrupção de um ano
Bruno: Obrigado. Questionando sobre o clima agora, que é o cerne do nosso encontro. Uma das questões que você levantou recentemente foi o Cisne Verde (no artigo de mesmo nome, em inglês Green Swan, publicado pelo BIS), que faz analogia ao Cisne Negro, famoso na literatura econômica graças ao livro homônimo de Nassim Taleb. Um dos tópicos por você mencionados é que o Cisne Negro é um evento de forte intensidade econômico-financeira, mas de baixa probabilidade — uma das suas características fundamentais. Entretanto, o Cisne Verde, cuja intensidade é até maior e tendo uma probabilidade de ocorrência quase certa se nada fizermos, vem nos alertando da sua existência há algum tempo.
Como você começou a pensar sobre o Cisne Negro, e como ligou os pontos entre o Cisne Negro e o Cisne Verde?
Luiz: A ideia central do livro Cisne Verde, que foi publicado pelo BIS e pelo Banque de France, é sobre a dimensão de risco do aquecimento global e das mudanças climáticas. E é nesse sentido, de risco — da dimensão risco — que ele tem uma relação com a questão do Nassim Taleb.
Há, contudo, uma grande diferença: o conceito financeiro de Cisne Negro, durante o período da crise financeira de 2007-2008, se caracteriza como um chamado “risco de cauda” — eventos que acontecem raramente. Há, obviamente, relação causal com a maneira na qual o sistema financeiro é gerenciado, pois riscos excessivos são tomados. Em algum momento, esses riscos podem desencadear uma crise sistêmica, mas permanecem dentro de uma modelagem tradicional do fenômeno de risco.
No conceito de Cisne Verde, entretanto, nós tentamos realizar uma chamada “revolução epistemológica” — precisava-se ter uma ideia bem diferente do que é o risco climático, porque ele existe em dimensões diversas:
Primeira, inelutáveis: os melhores cientistas nos dizem hoje que, se nada for feito para mitigar o que está acontecendo em matéria de emissão de gases estufa, o fenômeno que estamos observando do aquecimento progressivo do planeta vai nos levar a situações devastadoras do ponto de vista do risco, não apenas para o sistema financeiro como mencionado pelo Cisne Negro, mas para a humanidade no seu conjunto. Riscos que têm a ver com fenômenos como a mudança da temperatura, as secas, com a maneira como regiões inteiras do planeta vão se tornar inabitáveis. Por fim, isso pode desencadear migrações em massa.
Segunda, de não-linearidades: uma característica desse novo conceito que propusemos é que ele não pode ser capturado por modelos lineares, mas tem uma característica de ruptura, e pode desencadear uma série de outros fenômenos que têm também consequências devastadoras para a economia, para o planeta.
Bruno: Pois até outros tipos de vida, que não a humana, são afetadas.
Luiz: Possivelmente modificaria a biodiversidade, as próprias cadeias alimentares, a circulação de correntes oceânicas, o nível do mar. Enfim, uma série de consequências que são bem diferentes de uma simples grande crise financeira.
Portanto, nós insistimos, nesse livro, que era preciso ter uma visão daquilo que chamamos de Cisne Verde como algo que tinha uma dimensão muito mais séria do ponto de vista de risco, com uma maior certeza sobre o seu acontecimento — apesar de não se ter hoje, mesmo com a melhor ciência disponível, uma ideia precisa do que aconteceria nos próximos 12-13 anos. Entretanto, percebem-se alguns acontecimentos, por exemplo: estamos observando a incidência de fenômenos meteorológicos graves, devastadores, com uma frequência muito mais alta. Outra ideia: os melhores cientistas nos dizem hoje que existe um volume máximo de emissão de partículas de CO2 na atmosfera, além do qual seria desencadeado um fenômeno de aquecimento de uma maneira irreversível. Nós sabemos que o orçamento global ainda disponível de emissão gira em torno de 300 a 400 giga/tonelada de CO2 na atmosfera. A nossa emissão atual anual é da ordem de 35-40 giga/tonelada, sem termos sido capazes de corrigir a sua redução, que era uma das metas dos acordos que foram passados, inclusive o acordo de Paris. Não precisa ser um gênio matemático para fazer o cálculo de que, nesse ritmo de emissão, até chegarmos a esse tipping point (ponto de não-retorno), onde são criadas não-linearidades e riscos extremos, estima-se algo como 10-12 anos.
Por último, sobre as dimensões do risco climático:
Terceira, financeira: uma dimensão bem prática para os economistas, banqueiros e asseguradores é que os acontecimentos de eventos climáticos extremos (como furacões, inundações e secas) já causam um custo financeiro enorme para as nossas economias. Os custos hoje de perdas são calculados, por exemplo, pelas grandes asseguradoras globais, e são custos muito grandes para a economia mundial. Obviamente, eles afetam muito mais os países pobres. E, dentro dos países ricos, esses custos estão afetando muito mais as pessoas de renda mais baixa — que tem menos condições de se proteger contra esses eventos meteorológicos extremos.
É por tudo isso que nós criamos e popularizamos esse conceito, bem como organizamos várias conferências para divulgar essa ideia que se trata de algo extremamente sério — não só para a economia dos bancos, para as seguradoras, para as finanças, mas para a sociedade como um todo.
Bruno: Um dos problemas é que também existe uma assimetria entre o causador e o tomador. Como você falou, os países pequenos sofrem bastante por isso, e muitas vezes não são os maiores causadores. Dessa forma, eles sofrem as consequências em até maior grau, pois não contribuem tanto quanto os países ricos para a causa. Isso tem a ver, como também mencionado por você, com o mecanismo de preços, que aparentemente falha nestes casos. Portanto, não conseguimos fazer o hedging adequado dos riscos.
Em suma, em uma não-linearidade dessa dimensão, não parece ser possível precificar corretamente os riscos. Entretanto, o próprio Taleb, em outro livro intitulado “Skin in the Game” (traduzido literalmente como “Pele no Jogo”), argumenta que precisamos, para uma sociedade funcionar bem, ter um sistema de preços funcional. Thomas Sowell evoca a mesma ideia em suas obras. Sendo assim, existe alguma maneira de conseguirmos precificar esse problema, e fazer com que quem causa mais sofra mais, e quem causa menos sofra menos?
Luiz: Há vários pontos sobre essa questão. O primeiro ponto é que os economistas leem na mudança climática o que chamam de uma “externalidade negativa global” — isto é, algo que estamos causando, mas cujo efeito não está perfeitamente embutido no preço, no custo social do evento em si. Para solucionar esse problema, teoricamente, a recomendação dos economistas é criar um sobrepreço. Por exemplo: uma taxa de carbono, que seja paga obviamente por cada um proporcionalmente à sua emissão. Espera-se que, com o aumento do preço desse risco, desse efeito negativo mais elevado, o comportamento dos agentes mude.
Se há um aumento no preço dos combustíveis fósseis com esse tipo de precificação do risco, tem-se o que os economistas chamam efeito de preço, ou elasticidade de preço na demanda. Isso faz com que essa demanda se reduza, e, portanto, que se consuma menos combustível fóssil, o que então acaba reduzindo as emissões de CO2. Essa ideia, teoricamente, é perfeita. Porém, observamos nas últimas décadas que a sua aplicação é muito complicada. Primeiro, porque ela é dificilmente aplicável globalmente. Existem, obviamente, mecanismos para um agente, através de créditos de carbono, as emissões suas emissões. Entretanto, esses mecanismos de preço, que teoricamente deveriam resolver esse problema da mudança climática, até agora não foram efetivos.
Então, a segunda observação é que existem novos mecanismos que precisam ser repensados. Menos baseados em taxação de carbono, apesar de ela ser necessária, mas muito mais em como será feito o controle efetivo das emissões reais em termos de quantidade: via regulação, via mudança de comportamento, via fornecimento de novas tecnologias alternativas para os transportes, para o aquecimento. Isso é sobre continuarmos trabalhando na questão de se ter um preço desse risco através da taxação carbônica, mas acompanhar — ou fazer um esforço adicional — sobre as questões de transformação da maneira como produzimos, consumimos, nos locomovemos e investimos em novas tecnologias.
Ou seja, o esforço deve ser baseado mais em reduzir as quantidades de emissão de CO2 a cada ano. Você viu, pelos números que eu citei, que precisamos conseguir isso nos próximos 10-12 anos. É necessário haver, em princípio, um objetivo de redução de emissão para tentar reverter a tendência atual. Cerca de 150 países adotaram como filosofia a chamada meta de atingir uma emissão líquida zero (net zero) de carbono até 2050, com metas intermediárias de redução de emissão em 2030. É esse esforço que as pessoas agora estão perseguindo, através de diversos caminhos. Apesar da taxa sobre emissão de carbono, teoricamente, ser um instrumento primordial, é necessário lembrar que não existe uma bala de prata para resolver a questão do aquecimento global. Politicamente, essa taxa é difícil de ser implementada, inclusive porque existem diferenças entre países. O que está sendo pensado é uma coordenação de países para se ter políticas de caminho para net zero nos próximos 30, 40 anos.
Por fim, acho que é importante ressaltar, como nós tínhamos assinalado, que existe uma desigualdade entre países de renda mais alta e mais fraca no mundo. Além do que eu mencionei, o que precisa também ser pensado é uma maneira como fundos globais de transferência de recursos podem ser elaborados. Por exemplo, no âmbito de instituições financeiras internacionais, para permitir que países mais pobres possam adquirir novas tecnologias antes de eles, digamos, chegarem ao tipo de patamar de emissão que os países avançados têm hoje. Dessa forma, se tem uma política de transferência de tecnologia, de financiamento de energias alternativas e de financiamento da absorção do carbono. Esses pontos vão auxiliar o alcance da meta de net zero da maneira mais socialmente justa possível.
Bruno: Algo que você também menciona, que também é de certa forma acerca desse assunto, é a questão de não acreditarmos em um cavaleiro branco tecnológico: ou seja, não é possível solucionar apenas com a boa vontade da tecnologia. Há alguns avanços recentes — por exemplo, o carro elétrico, porém esses avanços não chegam a ser relevantes globalmente. Temos outras tecnologias, outras boas intenções; na própria geração de energia limpa temos obtido alguns esforços.
Porém, como já dito anteriormente, a conta não fecha: contando apenas com isso, não funcionará. É um desafio também a percepção da sociedade sobre a questão, porque ela precisa se alertar para esse problema. Ou seja, se uma pessoa pensa da seguinte forma: “a tecnologia vai resolver, eu não preciso me preocupar com isso, pois sempre conseguimos nos reinventar, a raça humana é muito boa nisso. Continuarei vivendo a minha vida normalmente, porque daqui a cinco anos alguém vai solucionar isso”.
Como conseguimos mudar, a partir de uma perspectiva das finanças, essa noção?
Luiz: Eu seria um pouquinho menos, digamos, radical, do que a sua observação. Não é que a tecnologia não ajude, é o contrário: a tecnologia tem que ajudar na transição para net zero. O problema é o risco. Mais uma vez, é uma corrida contra o tempo, em que temos cerca de 10 a 12 anos antes de atingir um ponto irreversível em matéria de aquecimento. Então, a questão é se como sociedade, como espécie humana, nós queremos arriscar todas as nossas chances numa mudança tecnológica radical. Esse é o risco.
Porém, vamos ser também otimistas: nós sabemos que existem uma série de elementos novos que estão surgindo e que vão certamente diminuir a pegada de carbono. Você citou a questão do transporte, mas eu diria que talvez não seja unicamente através de um carro individual elétrico, mas repensando um sistema de mobilidade urbana através de transportes públicos eletrificados. Uma outra tecnologia que nós sabemos que é hoje disponível é a absorção de carbono. Essa tecnologia existe em laboratório, mas é preciso que ela seja elaborada, multiplicada em escala global para poder aumentar o orçamento de emissão que se tem hoje. E há também um elemento tecnológico, um elemento da melhor forma que nós temos de absorção de carbono hoje no planeta: a preservação das nossas florestas tropicais, das nossas áreas verdes. Isso é um elemento importante de uma estratégia. Mais uma vez: não existe um só instrumento, um só caminho, um só país, uma só política, para se combater a mudança climática. É necessário haver coordenação entre várias políticas, entre vários países, entre várias tecnologias, e é preciso, obviamente, um financiamento coordenado para essa transição para net zero.
A boa notícia é que existem alguns mecanismos funcionando nesse sentido. Os bancos centrais se reuniram no chamado NGFS (Network for Greening the Financial System). O BIS participa disso. O setor privado criou várias alianças de financiamento privado da transição, as Nações Unidas possuem vários grupos de trabalho que se focam na coordenação contra a mudança climática, existem as conferências anuais sobre mudanças climáticas. Tudo isso são contribuições para que caminhemos para net zero. Porém, é um esforço que ao mesmo tempo é coletivo, urgente, e necessita da colaboração de todo mundo.
Bruno: Sim, e um dos talvez desafios disso é a questão da soberania, porque algumas nações podem divergir das outras. E como você falou, isso é um esforço que deve ser coordenado porque é um problema global. Não é um problema de um país só e, portanto, a solução deve ser alcançada em conjunto.
Luiz: Sim, eu descrevi alguns desses mecanismos de coordenação e soberania. Nós temos alguns deles funcionando mesmo que não de uma maneira perfeita e ideal: as Nações Unidas, o G20, o G7, a Comunidade Europeia, o Mercosul e também os BRICS. Temos, inclusive, alguns países que possuem ambiciosos planos com a China, a União Europeia, os Estados Unidos para a transição verde. Temos o Brasil, que é um país que está também, em muitos aspectos, inclusive com uma matriz energética limpa, na vanguarda de ter uma retomada de políticas que preservem o bioma amazônico, políticas que controlem o desmatamento. Portanto, devemos ter a esperança de que essas questões de soberania sejam resolvidas através desses vários mecanismos de coordenação e de cooperação que nós sabemos que estão trabalhando.
Bruno: No caso específico do Brasil, temos um problema sério, que é o desflorestamento, ou desmatamento. Na minha opinião, ele é exacerbado pela grilagem, pela ausência de direitos e pela ausência de propriedade. Com isso, é efetivamente difícil de rastrear o que está acontecendo naquela região. Como poderíamos encontrar uma solução financeira para esse problema?
Luiz: Eu não entraria no caso específico do Brasil ou de outros países, porque a floresta tropical global se estende no mundo inteiro na zona tropical. Problemas similares serão encontrados desde a Ásia até as Américas e na África. Um fenômeno que temos que promover, que inclusive está sendo um dos elementos importantes levado a fóruns internacionais, é que é preciso, sim, levantar financiamento público e financiamento privado para investir de maneira sustentável na floresta tropical.
Existem formas de explorar de maneira sustentável a floresta tropical. Além disso, há um potencial enorme de investimentos internacionais que se beneficiaram do que existe de biodiversidade nestas florestas. Pense, por exemplo, no potencial farmacológico. Logo, eu acho que temos que ser esperançosos nesses esforços que existem hoje — por exemplo, através de cooperação bilateral entre o governo brasileiro e o governo americano, União Europeia, países da Ásia como a China etc. — que possuem por objetivo uma mobilização de recursos para avançar na área de investimentos sustentáveis e de finança verde sustentável. Esse último elemento, de finança verde sustentável, tem um enorme potencial, porque cada vez mais as instituições financeiras percebem que elas estão expostas ao risco climático, direta ou indiretamente. Diretamente, porque elas podem ter investimentos onde pode haver um evento climático dramático. E indiretamente, pois elas carregam nas suas carteiras uma série de ativos cuja valorização pode mudar por conta de eventos climáticos, por conta de novas regulações etc. Então, há todo um esforço que está sendo mobilizado, e os Bancos Centrais têm tido um papel esclarecedor nesse âmbito de alertar o sistema financeiro para alguns desses riscos climáticos, e para tentar fazer com que o desenho dos seus portfólios seja mais compatível com a minimização da exposição dessas instituições a tais riscos.
Assim, não é por nenhum altruísmo ou sentimento moral — claro que existe este fator — mas é simplesmente por um interesse de ter um balanço saudável em matéria de sustentabilidade ambiental e de minimização da sua exposição ao risco climático. Além disso, se tem um ramo grande da finança hoje — a finança verde — que está desenvolvendo novos instrumentos financeiros justamente para financiar a energia renovável e novas tecnologias. Têm-se um progresso grande da emissão dos chamados bônus verdes, onde os critérios de alocação são rigorosos, e os recursos vão para projetos que sejam de energia renovável, sustentáveis, que reduzam a pegada de carbono etc.
Portanto, existe um potencial enorme de se poder fazer uma parte dessa transição para net zero através desse grande ramo que está se desenvolvendo — o da finança verde.
Bruno: Vejamos se eu entendi. Vamos exemplificar um portfólio com milhos futuro. Se não for possível fazer o hedging desse risco — de a colheita ser muito ruim nos próximos cinco anos por causa de eventos climáticos drásticos — então há um problema muito sério.
Luiz: Você pode dar até um exemplo mais extremo: um portfólio que esteja 100% exposto à futura extração de shale gas, oil, onde, obviamente, é sabido que o preço tem uma grande volatilidade, depende de condições regulatórias e pode, do ponto de vista puro e simples da sua rentabilidade, sofrer uma grande desvalorização nos próximos anos. Então, é esse o risco que uma instituição investidora, um fundo de pensão, tem que considerar quando faz sua alocação de portfólio. Mais uma vez, essas coisas não se fazem da noite para o dia. Não existe uma solução milagrosa para sair da exposição ao risco climático que nós temos hoje e fazê-la desaparecer de seu balanço. Mas existem tecnologias financeiras para pensar nisso, inclusive algumas delas desenvolvidas aqui pelo BIS. Então é achar uma maneira adicional de contribuir para a mitigação do risco climático.
Bruno: A maioria das pessoas tem essa ideia de que está acontecendo alguma coisa muito ruim com o clima, mas imaginam que isso é um pouco distante dos afazeres dos Bancos Centrais.
Luiz: Justamente, não é tão distante assim. Um dos trabalhos que a gente realizou com o Cisne Verde e as conferências foi mostrar que os Bancos Centrais têm o mandato de preservar a estabilidade de preços e financeira e, dado que essa estabilidade financeira tem obviamente ramificações e ligações com o risco climático, é natural que, dentro de seus mandatos, os Bancos Centrais se preocupem em alertar os seus supervisionados, os seus regulados, sobre esse tipo de risco.
Então, você verá que, no site do BIS, as conferências, os documentos, os papéis, estão repletos de maneiras como os Bancos Centrais — que de jeito nenhum podem resolver o problema do risco climático sozinhos — vão certamente contribuir para esse alerta, pois eles participam dessa rede NGFS, que trabalha nesse tipo de temática. E eles têm o papel de criar esse ambiente de coordenação para a mitigação do risco climático.
Acho que a última palavra é a seguinte: é preciso evitar, nessa questão do aquecimento global, ao mesmo tempo uma atitude totalmente complacente e de rejeição desses riscos — acho que sabemos hoje, pela ciência, que esse risco existe e que é crescente. E, ao oposto, uma situação em que não existe nenhuma outra solução senão ter uma paralisação geral das nossas atividades e da maneira como nós vivemos e trabalhamos. Obviamente, é necessário reconsiderar uma série de fatores nesse balanço de riscos, mas deve-se sobretudo trabalhar a questão de uma mudança Schumpeteriana das nossas economias industriais e de serviços modernas. A mudança climática é um dos principais problemas macroeconômicos que teremos que enfrentar, como um processo de destruição criativa. Nosso velho estoque de capital terá que ser progressivamente, mas decididamente, mudado tecnicamente para chegarmos a net zero, assim como nossos hábitos de consumo. E isso tem que se dar com justiça social. Os mais ricos terão que contribuir mais, a nível global e a nível de país, pois eles são os que produzem a maior pegada de carbono. E isso implica coordenar diversos atores, globais e nacionais: governos, Bancos Centrais, instituições financeiras, sociedade civil. Todos devem ter o seu papel nesse caminho para a transição para net zero.